

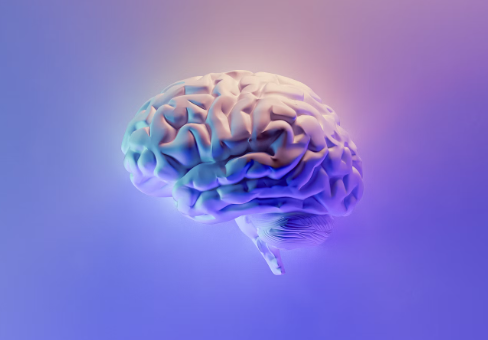
Pesquisador responsável: Bruno Benevit
Título original: Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective
Autor: Raj Chetty
Localização da Intervenção: Estados Unidos, Dinamarca
Tamanho da Amostra: 1,2 bilhão indivíduos-ano
Setor: Economia Comportamental
Variável de Interesse Principal: Adesão a políticas
Tipo de Intervenção: Default, Nudge
Metodologia: Experimento
Resumo
A economia comportamental tornou-se uma crescente vertente na literatura econômica, oferecendo instrumentos adicionais à tradicional perspectiva neoclássica. Este artigo investiga como a economia comportamental pode aprimorar a análise e o desenho de políticas públicas, com foco em programas de previdência, incentivos fiscais e escolhas residenciais. O estudo apresenta abordagens empíricas que combinam experimentos naturais, análises de dados administrativos e modelagem comportamental em três casos de políticas. Os resultados revelam que indivíduos frequentemente apresentam padrões decisórios inconsistentes com modelos tradicionais, como inércia frente a incentivos fiscais, subvalorização de benefícios de longo prazo e sensibilidade a apresentação informacional (default) das políticas. Essas evidências indicam que políticas que incorporam elementos comportamentais, como contribuições automáticas em previdência ou nudges informacionais em programas habitacionais, tendem a ser mais eficazes do que intervenções baseadas exclusivamente em incentivos econômicos tradicionais.
A economia comportamental tem ganhado crescente relevância ao longo das últimas décadas na literatura econômica (CHETTY, 2015). Essa vertente no campo da economia surge como um complemento à abordagem da economia neoclássica, incorporando elementos da psicologia para entender decisões econômicas que fogem da racionalidade perfeita. Enquanto a economia neoclássica parte de pressupostos como otimização e expectativas racionais, a perspectiva comportamental reconhece vieses como aversão à perda, procrastinação e desatenção podem influenciar o processo de decisão dos indivíduos diante de escolhas reais.
Essa integração permite uma análise mais realista de políticas públicas, focada não apenas em debater teorias, mas em resolver problemas práticos, como aumentar a poupança ou melhorar a adesão a programas sociais. Segundo Chetty (2015), ao adotar uma postura pragmática no debate entre essas duas vertentes no campo da economia, é possível utilizar os conceitos da economia comportamental para ajustar os tradicionais modelos neoclássicos, tornando-os mais precisos sem abandonar totalmente seus fundamentos.
As implicações da economia comportamental para políticas públicas podem ser organizadas em três eixos principais. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de novos instrumentos de política, como ajustes em opções padrão ou no formato de incentivos, que exploram vieses cognitivos para induzir comportamentos desejáveis. O segundo eixo melhora a capacidade de prever os efeitos de políticas já existentes, ao incorporar fatores como inércia ou desatenção comportamentais, que alteram a resposta dos indivíduos a incentivos econômicos. Por fim, a abordagem comportamental introduz novas dimensões para avaliar o bem-estar, ao distinguir entre a utilidade percebida pelo formulador de política e a utilidade que guia as decisões dos indivíduos, muitas vezes afetadas por distorções.
Nesse sentido, este estudo explora três casos de políticas públicas para analisar essas implicações, verificando como a economia comportamental pode auxiliar na compreensão das mesmas. Dessa forma, a consideração de fatores comportamentais não apenas amplia a literatura econômica, como também permite aprimorar o desenho e a avaliação de políticas públicas.
A economia comportamental oferece ferramentas alternativas para influenciar comportamentos, como a alteração de opções padrão em planos de aposentadoria. Um exemplo emblemático de como novos instrumentos de política podem influenciar a poupança para aposentadoria é o caso dinamarquês. Em 1999, o governo da Dinamarca implementou uma reforma no sistema previdenciário, reduzindo drasticamente o benefício fiscal para contribuições em contas do tipo capital pension (resgate único) para contribuintes de alta renda, enquanto manteve inalterados os incentivos para contas do tipo annuity pension (pagamentos periódicos). O sistema permitia que os trabalhadores escolhessem livremente entre esses dois tipos de contas para direcionar suas poupanças. Essa mudança criou uma diferença abrupta no tratamento fiscal entre os tipos de conta e entre faixas de renda. Essa mudança permite verificar a tendência humana à inércia e o potencial das escolhas default em políticas públicas. Assim, esse caso pode ilustrar como vieses comportamentais pode aprimorar o desenho de políticas mais eficazes.
Com relação aos impactos de políticas existentes, a consideração de fatores comportamentais como diferenças no conhecimento sobre benefícios fiscais pode aprimorar a sua previsão. O estudo considerou o programa Earned Income Tax Credit (EITC) nos EUA para examinar como a economia comportamental pode aprimorar a previsão dos efeitos de políticas fiscais sobre a oferta de trabalho. Implementado em sua forma atual em 1996, o EITC estabelece um sistema de créditos tributários com estrutura não-linear, variando conforme renda, estado civil e número de dependentes. O desenho do programa cria incentivos distintos em diferentes faixas de renda, com fases de acumulação, platô e redução de benefícios. Esse caso é relevante porque a resposta dos beneficiários aos incentivos fiscais pode ser influenciada por dificuldades no processamento de informações sobre benefícios marginais e vieses na avaliação de trade-offs entre trabalho e lazer.
Por fim, o estudo considerou o programa Moving to Opportunity (MTO) nos EUA para verificar como a economia comportamental pode auxiliar na análise de bem-estaer das escolhas residenciais dos indivíduos. Implementado nos anos 1990, o programa foi um experimento que ofereceu a famílias que vivem em conjuntos habitacionais vouchers de subsídio para moradia, permitindo que se mudassem para bairros com menores níveis de pobreza. O desenho experimental usou randomização, criando grupos de tratamento e controle. Esse caso é relevante porque a mudança para bairros melhores pode trazer benefícios significativos, permitindo romper ciclos de pobreza. Crianças ganham acesso a escolas de melhor qualidade e ambientes mais seguros. Por sua vez, adultos passam a conviver em comunidades com redes sociais mais diversificadas. Fatores como viés de status quo, custos cognitivos da mudança e avaliação imprecisa de benefícios futuros podem afetar a tomada de decisão dos indivíduos (CHETTY, 2015). Nesse sentido, a consideração de conceitos da economia comportamental como o nudge – pequena intervenção que influencia escolhas sem restringir opções – podem auxiliar na compreensão das decisões familiares, permitindo compreender por que muitas famílias, mesmo com vouchers, não se mudam para áreas melhores.
O estudo examinou o sistema previdenciário dinamarquesa, que oferece duas modalidades principais: as capital pensions (com saque único na aposentadoria) e as annuity pensions (com pagamentos parcelados). Em 1999, o governo implementou uma reforma que reduziu significativamente o benefício fiscal para contribuições às capital pensions - de 59% para 45% de dedução no imposto de renda - exclusivamente para contribuintes no percentil 80 da distribuição de renda (com renda anual superior a DKK 251.200). Essa mudança afetou aproximadamente 20% dos contribuintes adultos no país, criando um cenário ideal para avaliar como as pessoas respondem a alterações nos incentivos previdenciários.
A metodologia adotada combinou análise de descontinuidade regulatória com decomposição comportamental detalhada. Os pesquisadores compararam o comportamento de contribuintes marginalmente acima e abaixo do limiar de renda estabelecido pela reforma. A abordagem permitiu isolar o efeito da mudança política, controlando para características observáveis como idade, gênero e histórico de contribuição. Para tal, consideraram-se registros administrativos completos que cobriam toda a população adulta dinamarquesa entre 1995-2009, contemplando 41 milhões de observações.
De acordo com o autor, segundo a teoria neoclássica tradicional, se esperaria que todos os contribuintes afetados pela reforma ajustassem imediatamente suas estratégias de poupança. Especificamente, o modelo preveria: (i) redução proporcional nas contribuições às capital pensions dada a menor vantagem fiscal; (ii) realocação parcial desses recursos para outros veículos de poupança (como as annuity pensions); e (iii) respostas comportamentais homogêneas em toda a população afetada, com variações explicadas apenas por diferenças em parâmetros objetivos como elasticidade-renda.
As evidências empíricas, contudo, revelaram padrões marcadamente diferentes. Embora a redução tenha diminuído as contribuições agregadas em quase 50%, a maioria dos indivíduos (80,7%) manteve seus aportes inalterados, enquanto apenas 19,3% ajustaram seus comportamentos conforme previsto por modelos tradicionais. Isso revelou que estratégias baseadas em defaults, como contribuições automáticas patrocinadas por empregadores, são mais eficazes, aumentando a poupança total em cerca de 85% sem exigir ação ativa dos indivíduos.
O EITC é maior programa de crédito tributário para trabalhadores de baixa renda nos EUA. Em 2012, o programa beneficiou 27.8 milhões de declarantes, com custo federal de US$63 bilhões. O programa possui estrutura trifásica: (i) fase de acumulação, onde o crédito aumenta com a renda (taxas de 34-40%); (ii) platô com benefício constante; e (iii) fase de redução gradual (taxas de 16-21%). O ponto ótimo em que os beneficiários maximizam seu crédito tributário ocorre com rendas anuais de US$8.970 para famílias com um filho ou US$12.590 para famílias com dois ou mais filhos.
Para compreender os impactos da política, a metodologia adotada explorou a variação geográfica natural no conhecimento sobre o programa. Utilizando dados fiscais de 78 milhões de contribuintes (1996-2009), os pesquisadores mapearam padrões de declaração de renda, comparando especialmente trabalhadores autônomos (com maior controle sobre renda reportada) e assalariados (com renda verificada via W-2). A análise focou em "bunching" – concentrações anômalas de rendimentos próximos aos pontos ótimos do programa.
De acordo com a teoria neoclássica, ao menos três suposições estariam subjacentes ao contexto dessa política. Primeiro, todos os beneficiários, uma vez informados, alinhariam perfeitamente suas decisões de oferta de trabalho aos incentivos marginais do programa. Segundo, as respostas seriam homogêneas entre diferentes grupos populacionais, variando apenas conforme parâmetros objetivos como elasticidade-hora. Terceiro, diferenças regionais refletiriam apenas variações em características observáveis da população ou do mercado de trabalho. Assim, esses modelos assumem que os trabalhadores compreendem e processam perfeitamente a complexa estrutura de incentivos do EITC.
Ao analisar os dados, o autor identificou padrões inconsistentes com modelos neoclássicos. Trabalhadores autônomos em áreas com alta densidade de beneficiários (como o sul do Texas) apresentaram forte concentração de rendimentos próximos aos valores ótimos do EITC (5,2% declarando dentro de ± US$500 do ponto ótimo), enquanto trabalhadores assalariados e regiões com menor conhecimento do programa (como Kansas) apresentaram respostas significativamente mais fracas (menos de 0,5% de bunching). Migrantes para áreas com maior conhecimento adaptaram seus comportamentos, com um aumento de 2,1 pontos percentuais (p.p.) no bunching. Contudo, o inverso não ocorreu, indicando que a compreensão dos incentivos se difunde socialmente e de forma assimétrica. Esses padrões sugerem que: (i) a compreensão dos incentivos é gradual e socialmente mediada; (ii) os custos cognitivos limitam a otimização perfeita; e (iii) intervenções que simplificam informação podem potencializar efeitos de políticas fiscais.
O programa MTO foi um experimento conduzido entre 1994-1998, fornecendo vouchers habitacionais para 4.604 famílias de baixa renda em projetos públicos de cinco cidades nos Estados Unidos. Os participantes foram aleatorizados em três grupos com relação ao bairro de destino: (i) vouchers válidos apenas para bairros com menos de 10% de pobreza; (ii) vouchers sem restrição geográfica; e (iii) grupo controle (não receberam vouchers). Os dados do estudo acompanharam as famílias participantes por um período de 10 a 15 anos após a intervenção, sendo complementados com registros administrativos federais que rastrearam indicadores socioeconômicos em nível nacional.
Mesmo diante de benefícios de longo prazo aos filhos dos participantes que utilizaram os vouchers (Chetty e Hendren, 2015), algumas famílias optaram por permanecer em suas localidades. Segundo os autores, modelos neoclássicos explicariam esses padrões através de trade-offs racionais. Especificamente neste caso, famílias valorizariam outros atributos mais que benefícios de longo prazo para crianças, como menor custo de deslocamento para o trabalho (commuting) ou proximidade de amigos. As teorias da economia comportamental, contudo, sugerem diferentes explicações para a permanência.
Para analisar as teorias comportamentais, o autor adotou três estratégias para avaliar políticas habitacionais sob perspectivas comportamentais. Primeiro, realizaram a medição direta de utilidade experiencial através de surveys de bem-estar subjetivo e dados longitudinais objetivos do MTO, comparando escolhas residenciais com resultados observados. Segundo, aplicaram uma análise de preferências reveladas em contextos de informação plena, usando como referência famílias que receberam assistência completa para mudança. Por fim, foi criado um modelo estrutural para identificar o viés comportamental, estimando parâmetros como fatores de desconto intertemporal. Para incorporar a incerteza ao modelo, comparou-se políticas ótimas em dois cenários – agentes “racionais” (perspectiva neoclássica) e agentes com vieses comportamentais (perspectiva da economia comportamental).
Os dois primeiros métodos revelaram que as famílias que se mudaram para bairros menos pobres apresentaram ganhos significativos em bem-estar subjetivo e melhores resultados objetivos de longo prazo (renda e educação dos filhos). No entanto, identificou-se que essas melhorias eram substancialmente maiores do que as famílias haviam antecipado em suas decisões originais, evidenciando uma clara divergência entre a utilidade experiencial e a de decisão. A análise em contextos com informação completa mostrou que, quando as famílias tinham pleno conhecimento dos benefícios das novas vizinhanças, suas escolhas se alinhavam melhor com os resultados efetivos, sugerindo que a assimetria informacional era um fator-chave nas decisões subótimas.
Com relação à modelagem estrutural, identificou-se uma subvalorização de benefícios futuros e a supervalorização de custos imediatos da mudança. Os parâmetros estimados indicaram que as famílias subestimaram em aproximadamente 30% os ganhos de longo prazo associados a bairros melhores. Simulações com esses parâmetros demonstraram que políticas combinando nudges informacionais com subsídios moderados (aproximadamente 40% dos custos da mudança) poderiam aumentar o bem-estar real sem comprometer a autonomia das escolhas. Esses resultados sugerem que intervenções comportamentais suaves podem ser mais eficazes do que subsídios tradicionais em contextos com vieses cognitivos subjacentes.
Neste artigo, o autor conduziu diversas abordagens empíricas para identificar como a adoção de uma IMCA de 16 anos na Áustria impactou o comportamento de consumo de álcool entre adolescentes. Os resultados indicam que o acesso legal ao álcool aos 16 anos aumentou significativamente a frequência e a quantidade de consumo, com destaque para episódios de binge drinking e hospitalizações por intoxicação alcoólica. Esse efeito foi mais pronunciado entre meninos e adolescentes de baixo nível socioeconômico. Além disso, foi identificado que a percepção de risco associada ao consumo excessivo de álcool diminuiu após os 16 anos, enquanto o acesso físico ao álcool já era relativamente fácil mesmo antes dessa idade.
As evidências deste artigo ajudam a compreender os mecanismos por trás do aumento no consumo de álcool após a idade legal, fornecendo informações relevantes para a formulação de políticas públicas. O autor ressalta que, diante dos impactos negativos observados, campanhas de conscientização sobre os riscos do consumo precoce podem ser eficazes para mitigar esses efeitos, em especial para jovens com histórico familiar de abuso de álcool. Além disso, a promoção de políticas que reduzam a disponibilidade de álcool para adolescentes e reforcem a percepção de risco associada ao seu consumo tem o potencial de contribuir para a redução dos problemas relacionados ao abuso de álcool nessa faixa etária.
Referências
CHETTY, R. Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective. American Economic Review, v. 105, n. 5, 2015.
CHETTY, R, Hendren, N and Katz, L. Working Paper. “The Effects of Exposure to Better Neighborhoods on Children: New Evidence from the Moving to Opportunity Experiment." 2015